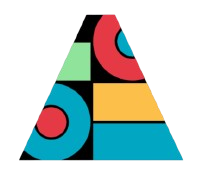Por décadas, milhões de africanos negros escravizados desembarcaram em condições desumanas no antigo Valongo, zona portuária do Rio de Janeiro. Era o fim de uma jornada transatlântica degradante e o começo de um calvário que só seria abolido no final do século 19.
Mas também eram os capítulos iniciais de uma história rica em samba, feijoada e batuque, na região hoje conhecida como Pequena África, que se consolida na rota do turismo carioca.
Um Passeio Emocionante
O passeio pela Pequena África é cheio de contradições e emoções. Ele retrata detalhes de uma tragédia que ainda deixa cicatrizes econômicas, sociais e urbanísticas no Brasil. Mesmo assim, o tour atrai cada vez mais turistas interessados em resgatar memórias que ficaram enterradas por muito tempo.
Fora do eixo das famosas praias da zona sul ou do verde da Floresta da Tijuca, o território histórico já divide os holofotes com cartões-postais tradicionais da cidade.
O circuito entrou na lista dos dez locais mais visitados do Rio no primeiro semestre do ano passado, conforme dados da Secretaria Municipal de Turismo. Foram 354.810 visitas no período, colocando a área na nona posição, à frente do Pão de Açúcar, Jardim Botânico e Cristo Redentor.
O movimento ganhou força após a Unesco reconhecer o Cais do Valongo como Patrimônio da Humanidade, em 2017. Desde então, a região se tornou um dos principais expoentes do afroturismo, promovendo um mergulho nas raízes da história negra.
Berço da Brasilidade e Negritude
Criado em 2011 por decreto municipal, o Circuito da Herança Africana abrange o Cais do Valongo e outros pontos focais da economia escravagista.
Uma lei estadual de 2018 ampliou o escopo da Pequena África para incluir, entre outros, a casa onde nasceu Machado de Assis, no Morro do Livramento, e as Docas Dom Pedro 2º, projetadas pelo arquiteto negro André Rebouças em 1871.
Pelo caminho, o turista encontra bares badalados no Largo do São Francisco, o samba da Pedra do Sal e restaurantes típicos da culinária brasileira.
“É um dos berços da brasilidade e da nossa negritude”, define a historiadora Luana Ferreira, uma das guias turísticas que ajudam a mudar o panorama da zona portuária.
Há sete anos, Ferreira recebe grupos de diversas origens que buscam mais informações sobre a experiência negra no Brasil. Muitas empresas também procuram o tour como uma ferramenta de promoção de programas internos de diversidade.
Pelas ladeiras e asfaltos dos bairros da Saúde, Gamboa e Santo Cristo, a excursão promove uma radiografia do legado da escravidão. Ferreira reconhece que o tema é duro, mas se esforça para mostrar que há mais do que apenas sofrimento na cultura afro-brasileira.
“Não quero que os visitantes saiam daqui depressivos, assim como não quero que romantizem a situação”, afirma. “É um passeio que emociona, mas a partir de um lugar de leveza e altivez.”
Para isso, ela aborda aspectos centrais da identidade brasileira, como a capoeira, a religiosidade e a intelectualidade negra. Todos esses elementos tiveram naquela área da cidade um ponto de efervescência, que atravessaram gerações principalmente pelo relato oral.
Uma História Enterrada
As marcas materiais dessa memória foram sucessivamente descaracterizadas pela evolução urbana. No começo do século passado, as reformas do então prefeito do Rio, Pereira Passos, aterraram o Cais da Imperatriz, que havia surgido anos antes em substituição ao Cais do Valongo.
Foi só em 2011, como parte do projeto de revitalização da zona portuária, que os ancoradouros foram redescobertos em uma escavação coordenada pela antropóloga Tania Andrade de Lima, do Museu Nacional.
O resgate do porto trouxe de volta o maior vestígio material do tráfico escravista na América. O cais começou a ser construído em 1811, por ordem de Dom João 6º, que havia se mudado para o Brasil com toda a família real três anos antes.
As obras se arrastaram até 1821, quando a região se firmou como principal núcleo do comércio escravista na passagem do Brasil Colônia para a Independência. Estima-se que cerca de 1 milhão de africanos escravizados desembarcaram no local.
Mas é difícil estimar quanto desse contingente passou pelo cais por falta de registros formais, afirma o historiador Cláudio de Paula Honorato, do Instituto Pretos Novos. Em muitos casos, eles chegavam pelas praias e já eram vendidos, sem precisar transitar pela estrutura.
No auge das operações, o entorno do ancoradouro tinha uma vasta infraestrutura de apoio à arquitetura escravagista. Sobrados e barracões funcionavam como lojas de compra e venda de pessoas escravizadas e de produtos de tortura. Na Gamboa, um prédio abrigava o Lazareto, onde os africanos acometidos por doenças passavam por uma quarentena em condições insalubres.
“As famílias mais ricas do Brasil controlavam esse mercado. Eles tinham dinheiro para produzir ou alugar navios, controlar as companhias de seguro, além dos mercados de secos e molhados”, afirma Honorato.
Para Inglês Ver
Em 1831, a edição da Lei Feijó proibiu o fluxo transatlântico de escravizados por pressão da Inglaterra. Ainda assim, o comércio continuou, agora como contrabando, e deu origem à expressão “para inglês ver”. Só em 1850 a Lei Eusébio de Queirós começou a aplicar a regra com mais rigor.
Àquela altura, o Cais do Valongo já havia sido substituído pelo Cais da Imperatriz, reformado para receber a esposa do imperador Dom Pedro 2°, a princesa Teresa Cristina, em 1843.
Nas décadas seguintes, a região foi estigmatizada na imprensa, o que abriu caminho para o aterramento do cais durante as reformas de Pereira Passos. Cortiços foram destruídos e as pessoas mais pobres foram forçadas a buscar terrenos mais desvalorizados. Foi nesse período que surgiu a primeira favela brasileira, o Morro da Providência, próximo ao porto.
Pelas batucadas do samba, os golpes da capoeira e as cantigas da umbanda e do candomblé, a região conseguiu resistir como uma espécie de meca da cultura negra. “Houve uma tentativa de isolamento e invisibilização dessa área, mas, por conta desse mesmo processo, a região preservou sua história e sua memória”, diz Honorato. “O poder público e a sociedade em geral desconhecem essa história, mas Pequena África sempre esteve viva na memória da comunidade afrodescendente”.
Uma História Resgatada
A turismóloga Emily Borges e a historiadora Bruna Cordeiro perceberam nas discussões globais sobre equidade racial uma oportunidade para resgatar essa história e transformá-la em negócio. Elas são sócias da Etnias Turismo e Cultura, com uma equipe de 20 guias que conduzem um roteiro de quatro horas pela região.
O ponto de partida é o Largo de Santa Rita, onde foi instalado o primeiro cemitério de negros escravizados do Rio. De lá, os participantes percorrem uma rota que inclui o Cais do Valongo e o Museu da História e Cultura Afrobrasileira.
No Instituto Pretos Novos, os visitantes conhecem os achados arqueológicos de outro cemitério que recebeu restos mortais de pessoas negras vindas da África. Há ainda uma parada para discutir os eventos da Revolta da Vacina, uma onda de protestos contra a obrigatoriedade da vacina contra a varíola decretada em 1904.
“Eu não consigo contar a história de cada pessoa negra que pisou naquele lugar, mas cada vez que conto uma história, tento trazer um pouco mais de dignidade para eles”, afirma Cordeiro.
As sócias observaram um aumento no interesse dos turistas pela região. Os cariocas costumam ficar surpresos com o apagamento histórico em uma área tão central da cidade, elas dizem.
Entre os estrangeiros, os americanos representam a maior parcela do público. “Eles sempre comentam que, no fundo, a história é a mesma, mas ficam chocados como temos a cultura afro-brasileira tão enraizada em todos os segmentos da sociedade”, relata Borges.
Desafios Antigos Persistem
Quem trabalha no turismo da Pequena África reconhece que houve investimentos públicos para potencializar os atrativos da região. As reformas para os Jogos Olímpicos de 2016 derrubaram o antigo elevado da Perimetral e construíram um passeio público.
No mês passado, o BNDES lançou um edital para financiar três projetos liderados por arquitetos ou urbanistas negros que desenvolvam intervenções urbanísticas no Distrito Cultural Pequena África.
Apesar disso, a ascensão do polo turístico esbarra em problemas antigos. Como parte da candidatura do Cais do Valongo ao título de patrimônio mundial, o governo se comprometeu a construir um Centro de Interpretação no prédio das Docas Dom Pedro 2º, mas o projeto não saiu do papel.
No ano passado, a Justiça Federal determinou que o Iphan e a Fundação Cultural Palmares deveriam iniciar as obras em um prazo de 180 dias. Procurados, o Iphan e a Fundação Palmares não responderam aos questionamentos da reportagem.
Nos arredores, há também o problema de segurança pública. É comum ver pessoas em situação de rua e há relatos de circulação de drogas, segundo as guias turísticas que conversaram com a DW. Desde 2022, a prefeitura fez mais de 2 mil apreensões na área da Pequena África, incluindo de objetos perfurocortantes e materiais destinados ao uso de droga. À reportagem, a Secretaria de Ordem Pública do município disse realizar diariamente ações de ordenamento, desobstrução de áreas públicas e acolhimento às pessoas em situação de rua, junto com a Secretaria de Assistência Social.
Emily Borges, da Etnias Turismo e Cultura, vê ainda um processo de gentrificação que expulsa populações tradicionais que ocupavam aquele espaço. “Há cada vez mais empreendimentos imobiliários que tiram a população local dali e a jogam para trás, como sempre fizeram ao longo da história”, diz.
São desafios que se repetem na história brasileira e dificultam a preservação da memória. Mas a guia turística Luana Ferreira está confiante no potencial da Pequena África para continuar resistindo. “Os africanos civilizaram o Brasil e o Rio é o grande distribuidor dessa cultura. A região do porto é a base disso”, afirma.
Fonte: https://www.uol.com.br/nossa/noticias/deutsche-welle/2025/04/19/pequena-africa-poe-memoria-negra-na-rota-do-turismo-no-rio.htm